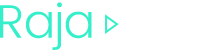O Futuro do Documentário
Eduardo Escorel
O diretor de documentários enfrenta, hoje em dia, alguns dilemas, não importa qual seja o país em que trabalhe. Mas há no Brasil opções específicas a fazer que podem chegar a pôr em questão a própria legitimidade dessa prática profissional.
Seriam quatro, a meu ver, esses dilemas fundamentais: o da (1o) obsolescência; o da (2o) incongruência; o da (3o) indisponibilidade e o da (4o) sobrevivência. Acredito que seja das escolhas feitas diante de cada um deles que resulta a maior ou menor relevância, originalidade, interesse e razão de ser dos documentários que vêm sendo produzidos em nosso país.
Com premonição própria da ficção, o filme “Ladrões de cinema” (dirigido por Fernando Cony Campos em 1977) já nos alertara, há quase 30 anos, para a circunstância de que a profissão de cineasta estava se tornando obsoleta. No filme, moradores de uma favela do Rio de Janeiro roubam a câmera e o gravador de uma equipe de norte-americanos que estão filmando o desfile de uma Escola de Samba. Em vez de vender o equipamento, resolvem fazer um filme a ser dirigido pela dupla Luquinha e Fuleiro. Luquinha, de Jean-Luc (Godard) e Lucchino (Visconti). Fuleiro, de (Samuel) Fuller. Tendo aprendido de um personagem chamado Claude Rouch que é preciso ter negativo na câmera para poder filmar, os ladrões de cinema assumem eles mesmos a direção do filme sobre Tiradentes e demonstram como pode ser dispensável a presença de um diretor profissional nas filmagens.
Passadas três décadas desde que “Ladrões de cinema” foi feito, não é mais necessário roubar equipamento para reafirmar a desnecessidade do diretor. Comunidades indígenas no Alto Amazonas têm acesso a cursos de formação técnica, câmeras e ilhas de edição através do projeto Vídeo nas aldeias que forma realizadores indígenas, desde 1977, entre 23 povos em 4 estados da Amazônia legal. O mesmo ocorre em favelas do Rio de Janeiro, aonde a entidade Nós do cinema dedica-se à formação de jovens carentes em diversas especializações do audiovisual e a Central única das favelas – CUFA formou, em 2004, a terceira turma de audiovisual. Indígenas e moradores das comunidades urbanas carentes tomaram em suas mãos a tarefa de registrar suas próprias imagens, tornando obsoleta a mediação do cineasta profissional. Esse é o primeiro dilema que deve induz o realizador de documentários, no mínimo, a procurar redefinir sua função e temática preferencial.
Outra comprovação desse primeiro dilema poderia ser feita tomando-se como exemplo um evento recente que chegou a ser comparado à Marcha do Sal, liderada por Gandhi em 1930, na qual 2 milhões de indianos desafiaram a taxação imposta pelos ingleses. Em versão bem mais modesta, 12.200 integrantes do Movimento dos Sem-Terra (MST) percorreram, no início de maio deste ano, 205 quilômetros em 16 dias, chegando a Brasília para protestar contra a política econômica do governo e apresentar ao presidente da República a reivindicação de que a reforma agrária seja efetivada, assentando 400 mil famílias ao longo do seu mandato. Essa teria sido, segundo a avaliação da imprensa, a “maior marcha de reivindicação social da história do País.”
À parte o possível exagero da comparação com a marcha indiana, não resta dúvida de que o evento brasileiro poderia ser tema de vários documentários. Sabemos que gravações foram feitas por jornalistas turcos para a CNN da Turquia e por equipes da Suécia, Coréia e Itália. Registros jornalísticos também foram exibidos nos tele-jornais das emissoras de televisão brasileiras e é provável que integrantes do próprio MST tenham feito algum gênero de gravação. E os documentaristas brasileiros? Terão acompanhado a marcha? Até onde soubemos, um registro foi feito pelo fotógrafo Alberto Bellezia Neto. Ainda assim, considerando a significação atribuída ao evento, diria que a presença desse câmera solitário não chega a alterar a impressão de que os realizadores de documentários estiveram ausentes, pecando por omissão diante de eventos significativos da nossa história contemporânea e ratificando, dessa maneira, sua irrelevância.
O segundo dilema, da incongruência, pode ser exemplificado pela situação vivida por uma dupla de documentaristas (Ricardo Stein e eu mesmo) quando gravavam, em fevereiro deste ano, a reunião de 300 pequenos agricultores na fábrica de farinha de Inhapi, cidade com 20.000 habitantes da região semi-árida do estado de Alagoas. Um dos principais objetivos do encontro era a renegociação das dívidas com o Banco do Nordeste, de maneira que os agricultores pudessem tomar novos empréstimos que garantissem o plantio da próxima safra. A maior dívida entre os participantes da reunião chegava a 15 mil reais, resultante de um empréstimo inicial de 7 mil reais somados aos juros acumulados. A equipe de gravação, por sua vez, estava gastando quantia equivalente a essa, mais do que a maioria das dívidas individuais que estavam sendo negociadas, apenas para se deslocar do Rio de Janeiro até Alagoas, cobrir custos de hospedagem e alimentação, e pagar a locação de equipamento e aquisição de fitas. Esse é o antigo dilema da incongruência, que pode ser dilacerante em um país, como o Brasil, de extrema desigualdade social, onde pessoas que participam de um documentário muitas vezes dependem apenas para sobreviver de uma parcela infinitesimal do custo da gravação.
O terceiro dilema se evidencia quando lembramos do documentário chinês “A oeste dos trilhos”, realizado por Wang Bing em 2003, a respeito do qual Dominique Paini falou na “disponibilidade absoluta para o tempo e o espaço” como sendo um aspecto essencial dessa saga de 9 horas, gravada ao longo de três anos. Uma das maiores virtudes do documentário de Wang Bing seria, segundo Dominique Paini, o fato do “sentido advir pelo ato de filmar, no momento mesmo da gravação, deixando se apresentar diante da câmera a paisagem e os personagens”. Em um modelo de produção como o que vigora no Brasil, regido por normas burocráticas e dependente de favores fiscais do Estado, parece duvidoso que projetos semelhantes possam ser realizados, no que diz respeito à duração da gravação, do documentário editado em si, e à disponibilidade do realizador para “o tempo e o espaço”. O terceiro dilema, nomeado aqui como o da indisponibilidade, resulta, portanto, do fato dos projetos serem condicionados pela obrigatoriedade de atender regulamentos e exigências legais em sua formulação e pelo limite estrito de tempo que se pode dedicar a eles em sua realização.
A potencialização do que levou o cineasta polonês Krzysztof Kieslowski a abandonar o cinema documentário constitui o quarto dilema. Kieslowski percebeu, durante a realização de “Estação”, em 1981, que a vida da pessoa filmada pode ser afetada pela própria filmagem. Para ele, “todo realizador de filmes não-ficcionais acaba percebendo um dia os limites que não podem ser ultrapassados – aqueles além dos quais arriscamos causar dano a quem filmamos”, conforme declarou à revista “Positif”. No Brasil, não se trata apenas de afetar quem é filmado. Abordar certos temas e fazer gravações em certos lugares pode resultar em ameaça à própria vida de quem realiza e de quem participa da filmagem. Pelo menos um documentário teria deixado de ser exibido para não pôr em risco a vida das pessoas envolvidas na sua realização (“Falcão – Meninos do tráfico”, realizado em 2003 por MV Bill e produzido pela Central única das favelas – CUFA). Ainda assim, os 16 jovens ouvidos no mesmo documentário teriam sido assassinados nos dois anos seguintes às gravações. O dilema da sobrevivência surge quando o medo prevalece nas relações entre moradores de comunidades, policiais e cineastas.
Há três anos, João Moreira Salles, já se perguntava onde estavam as imagens da tragédia do Grande Rio em que as estatísticas mais recentes indicam a ocorrência de 97 assassinatos por mês em um total de 1.167 casos em 2004. Segundo ele, esses registros visuais “não estão em lugar nenhum”, existindo, nas suas palavras, uma “tradição brasileira, trágica, de silêncio visual sobre a violência”. Mesmo que não pareça existir, de fato, conforme João observou, “um corpo de imagens que configure uma tradição”, creio que talvez haja uma certa injustiça nessa conclusão, ao menos no que diz respeito ao foto-jornalismo brasileiro em que há alguns registros eloqüentes de vítimas da violência policial. No caso do cinema documentário, porém, João Moreira Salles parece ter razão ao afirmar que “o momento do fogo, da violência, não se fotografa”. Quase sempre, o que temos, nas suas palavras, são apenas réquiens, imagens registradas depois das atrocidades terem sido cometidas. Fica, dessa maneira, configurada a dívida dos documentaristas com as vítimas desse quadro de violência. Dívida cuja origem acredito estar, em parte ao menos, nos 4 dilemas relacionados acima.
Há ainda um quinto dilema, mas que não é exclusivo do documentarista brasileiro. Foi também Krzysztof Kieslowski, salvo engano, quem o formulou pela primeira vez com maior precisão quando declarou à televisão francesa que “a câmera documentária não tem o direito de entrar no que mais [me] interessa, a vida íntima, privada, dos indivíduos. Preferi comprar glicerina na farmácia e os atores simularem choro do que filmar pessoais reais chorando, ou fazendo amor, ou morrendo.”
Esses quatro ou cinco dilemas podem levar à desistência, opção compreensível e respeitável feita por Kieslowski. Ou então, constituírem o desafio que nos motiva a persistir, procurando redefinir, a cada filme, nossa função e a fronteira entre os gêneros na tentativa de decifrar esse enigma chamado Brasil. ”
O Cinema Inútil
João Moreira Salles
Com seu rigor habitual, Eduardo Escorel nos apresentou uma síntese extraordinária dos dilemas que enfrentamos como documentaristas brasileiros. Poderíamos chamar essas razões de razões negativas, no sentido de que nenhuma delas torna nossa vida mais fácil, e algumas podem até inviabilizar nossa prática profissional. Embora eu seja essencialmente um cético, quero partir das razões negativas de Escorel para, quem sabe, descobrir se delas somos capazes de extrair algumas razões positivas que expliquem por que, apesar de todos os problemas, continuamos a fazer documentário no Brasil. Em suma, contra a minha própria natureza, pretendo ser otimista.
Quando, em 2001, falei da nossa propensão a fazer réquiens, quando disse que tínhamos uma dívida com o tema da violência, tomei como referência a história das representações de conflito no Brasil e, a partir dela, inferi o futuro. Olhei para trás e projetei o que vinha pela frente. Não errei completamente, mas errei assim mesmo. Não deixou de ser verdade que, salvo em raríssimos momentos, todos eles pontos fora da curva, a imprensa brasileira continua a omitir as imagens da violência cotidiana que vai fazendo seu serviço implacável nas comunidades pobres das cidades e do campo. É sempre bom lembrar que, só na cidade do Rio de Janeiro e seu entorno, morreram mais pessoas assassinadas durante os quatro anos em que aconteceu o cerco a Sarajevo do que na própria cidade sitiada. Simplesmente não conhecemos o registro visual dessas atrocidades. Mas quando fiz aquela comunicação oral, há apenas quatro anos, o cinema brasileiro ainda não havia produzido alguns dos filmes mais marcantes dos últimos tempos. Não conhecíamos “Ônibus 174”, “O prisioneiro da grade de ferro” nem “Cidade de Deus”. De certa forma, parte dessa dívida vem sendo saldada, e bem.
Isso me leva aos dilemas da obsolescência e da incongruência mencionados por Escorel. Não existe documentarista brasileiro que não os tenha sentido nas tripas. Acho, porém, que talvez tenhamos conseguido driblar esses dilemas – se não inteiramente, ao menos em parte – com o antídoto da ambição. Seria justo reconhecer que nosso cinema, ao contrário de certas cinematografias infinitamente mais bem estruturadas, é essencialmente um cinema ambicioso. Falo de ambição no sentido de investigar o país, de desvendar o que Escorel chama de o nosso “enigma”. E nesse aspecto o documentário brasileiro tem apresentado bons serviços.
Foi ele, e não a ficção, que chegou antes ao problema da violência. Foi ele que tratou primeiro das novas manifestações culturais da periferia, do funk ao hip-hop. Foi ele que, com Eduardo Coutinho, primeiro propôs um cinema da normalidade, das coisas não-extraordinárias, um ingrediente essencial do grande cinema argentino, ainda escasso no nosso cinema de ficção. E agora, diante dos problemas políticos que enfrentamos no país, temos neste festival um filme como “A vocação do poder”, de Escorel e José Joffily, que investiga as boas e as más razões que levam as pessoas a querer ingressar na vida política. Nada remotamente parecido pode ser encontrado no cinema de ficção. Nós, documentaristas, também chegamos antes ao tema da política institucional. É claro que não pretendo aqui estabelecer um Fla x Flu entre ficção e não-ficção. Por ser mais ágil e menos custoso, é natural que o documentário consiga chegar antes aos temas. Cabe à ficção vir depois e, com a força do sonho, propor esses temas para um público bem maior. A ficção tem cumprido esse papel. Nós temos cumprido o nosso.
Tudo isso me leva ao paradoxo da obsolescência. Se temos cumprido essa função antecipatória, por que a sensação de que não somos mais centrais? Porque de fato deixamos de ser. Aliás, nunca fomos, mas agora, pelas razões aventadas por Escorel, somos ainda menos. E isso, curiosamente, poderá ser a nossa eventual salvação. Escorel fala em obsolescência; eu prefiro usar o termo deslocamento. O diretor branco de classe média não é mais o único que filma. Não temos mais a prerrogativa da exclusividade. Seria o caso de dizer que as novas tecnologias representam a nossa Bastilha; e nós, evidentemente, fazemos parte do Ancien Regime.
Porém, nesse ponto é preciso soar uma nota de cautela: embora aceitando a premissa, duvido que por si só o acesso à tecnologia seja capaz de deflagrar mil primaveras nos meios audiovisuais. Desconfio que, não obstante as centenas de Bastilhas que venham a cair, o território da criação será sempre aristocrático. Na hora agá, o único valor que conta é o privilégio de nascença a que chamamos de dom ou de talento. Em outras palavras, a questão não é o índio filmar. A questão é o índio filmar bem. E talvez ainda mais: é preciso que o índio queira filmar. Assim como eu não tenho nenhum desejo de dançar o quarup, e por isso nunca o dançarei direito, os povos da floresta só produzirão bons filmes se quiserem e souberem filmar. Essas duas condições são perfeitamente realizáveis. Tomara que se realizem.
E nós então? O que faremos quando índios, sertanejos e favelados começarem a fazer bons filmes? Arrisco a seguinte resposta: nós nos libertaremos da tirania do tema único. Durante tempo demais nosso cinema documental foi um cinema feito por quem tem, filmando quem tem menos, ou nada tem. É o cinema do drama social brasileiro. O sentimento pode ser bom; os filmes, nem tanto. Há uma certa monotonia de ênfase, de indignação. Há muito dedo em riste, muita pedagogia utilitária, muito sentimento piedoso. A obsolescência nos permitirá, finalmente, reivindicar nosso direito a um cinema inútil. Inútil não no sentido de se comprazer com a auto-indulgência, mas de buscar em si mesmo sua razão de ser, não precisando existir senão para si mesmo. Será bom ver um cinema sem utilidades conviver com o cinema social, que continuará a existir, mas agora não exclusivamente. Desconfio que já estejamos vivendo o início desse processo. Há filmes maravilhosamente inúteis sendo realizados no Brasil. Penso no “Fim dos sem-fim”, um belo e melancólico registro das profissões que caem em desuso e desaparecem; penso no “Passaporte húngaro”, de Sandra Kogut, nos ensaios visuais de Carlos Nader, no cinema documental de Minas Gerais, que julgo o mais interessante do país; e de certa forma penso também em quase todos os filmes mais recentes de Eduardo Coutinho, todos eles absolutamente inúteis, e por isso mesmo tão notáveis.
Imagino que o cinema inútil saberá encontrar formas alternativas de se financiar. Acredito nos cineastas de domingo, no desejo de filmar por filmar; acredito que televisões de fora começarão a admirar as histórias de um país que, para grande espanto delas, já não será feito apenas de violência ou de brisa do mar. Imagino que os conhecedores da tradição documental se surpreenderão com a originalidade formal de filmes que vêm sendo produzidos quase clandestinamente no Brasil. Espero que produtores brasileiros saibam reconhecer essa riqueza.
Por último, penso no “Prisioneiro da grade ferro”, cujo grande mérito não é o tema, mas a maneira como o tema é tratado. Esse é um dos efeitos colaterais do cinema inútil: quando nos livramos do dever de consertar o mundo, temos tempo de refletir sobre as pequenas belezas da nossa profissão. Em geral isso produz um deslocamento da atenção, que migra do tema para a maneira de narrar; o olho que olhava para fora volta-se para dentro. Para quem conhece a história do documentário, esses são os momentos espantosos. É quando a história é reescrita “.